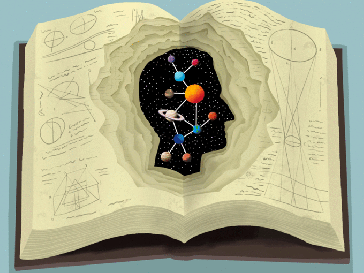Conto de Fernando Canto
Era uma velha amizade e todos sabiam. Rondava o encantamento até. Eram inconfundivelmente perfeitas no que faziam. Davam a impressão de serem tão ternas que o excesso de abraços poderia derretê-las. Assim eram minha mulher Gianni e sua amiga Elna. As pessoas de nosso círculo de amizade se surpreendiam como se nunca tivessem tido amigos do mesmo sexo. É claro, diziam, é tudo muito bonito, adoro, ele adora, nós adoramos. Admiramos tão vasta e impetuosa amizade. Gozavam de mim, os pulhas. Perguntavam como eu me sentia vendo tudo aquilo. Aquilo o quê? Eu dissimulava. Perguntavam sempre sobre minha adesão ultra modernista às coisas da vida, já que eu, um homem maduro e bem-sucedido engenheiro, possuidor de incontáveis atributos, embora conservador, chegava agora a encarar os fatos como algo normal. As pessoas não cansavam de me atazanar a vida. E eu me fazia de ingênuo. Elas sabiam ou pensavam que sabiam da minha vida e sempre davam asas a minha fama de conquistador, pois as mulheres ainda suspiravam quando eu passava exalando um caro perfume francês. Eu ria por dentro porque sabia da zombaria dos homens por trás de mim e durante muito tempo recolhi o que eles diziam através de suas mulheres nas camas dos motéis. Sim, eu era mau. E daí? Era a única forma que tinha de me vingar deles. E melhor, em silêncio. Meu conceito era ruim, mas eles me toleravam, tinham mesmo que me engolir. Embora me reconhecessem como um dos melhores calculistas da cidade, eu sabia que me desprezavam devido a minha origem humilde. Eles se enclausuravam num mundo de nuvens de algodão como se fossem parte de uma corte principesca. Na realidade, era um clube de elite, fechado e hipócrita. Um bando de hedonistas, de pervertidos, isso sim o que eles eram.
***

Meu casamento com uma mulher da alta me trouxe alguma vantagem profissional, prestígio, grossos contratos de trabalho e sobretudo respeito, o que não me incomodava nem um pouco, porém havia conversas atravessadas de desconfiança e olhares carregados de hipocrisia, de inveja. Ah! A burguesia… Hoje convivendo com ela posso compreendê-la, mesmo não a digerindo bem.
A minha origem, o meu tão ignorado passado, era razão de certa intolerância de convívio. Mas eu dei um golpe neles, pois não bastava mostrar competência. Esse golpe surgiu por acaso, quando descobri num livro de História um tal governador da Província com um sobrenome semelhante ao meu. Fora um herói nas expulsões dos flibusteiros holandeses que andavam na região no início do século XVII. Sei lá se era meu parente, se não era ficou sendo, pois em troca de umas plantas e de alguns metros de pedra e areia, um pesquisador diletante escreveu um lindo artigo sobre o herói e seus feitos nas páginas do jornal de maior circulação da capital. Saiu num Domingo, dia em que os burgueses leem jornais no terraço. A matéria finalizava assim: “O conhecido engenheiro, Dr. F. é o único remanescente e descendente direto do Capitão-General S., fidalgo da Casa Real, Alcaide-mor e Comendador da Ordem de São Tiago, no Estado do P.”

O golpe atingiu o alvo. O joão-ninguém que eu era escondia o jogo, diziam, homem de ascendência nobre, imagine, de família fidalga, um verdadeiro continuador da nobreza no Estado.
A burguesia é de morte. Bastou uma notícia no jornal para que nos dias seguintes eu ser badalado nas colunas sociais e até ser assediado nas festas por dondocas solteironas. Só precisava naquele momento saber administrar o golpe. Então me enfurnei nos livros de História ajudado pelo falso historiador em troca de cimentos e tijolos. Juntos fizemos a árvore genealógica parecer verdadeira, e foi um alívio descobrirmos nos códices do Arquivo Público Estadual uma carta do governador Capitão-General a El-Rei, solicitando sua volta a Portugal por causa das fortes dores nos hipocôndrios em função da má qualidade da água e dos alimentos. Suplicava a compreensão de Sua Majestade, pois servi-la era a grande honra de sua família, da qual, como último herdeiro, precisava tomar seu lugar nas vinhas de Vale D’ Ouro e rogar ao bondoso Deus que assaz lhe desse proteção e vida longa pra conseguir seu intento.

Se ele viveu e teve filhos, nem eu nem o historiador conseguimos saber. Para todos os efeitos seus atos e os de seus descendentes continuavam valendo nos artigos do professor de História, que, nessa altura, pela sua cumplicidade e pela projeção do meu nome, já estava com a casa pronta, só faltavam os azulejos do banheiro.
Durante uns cinco meses o assunto nas rodas dos bares e festas era sobre a história dos antepassados. Chegavam comigo e falavam de seus ancestrais, de nobreza, de como deviam ser bons aqueles tempos na metrópole portuguesa, ou, no mínimo, na corte imperial brasileira. Eu tratava os tempos coloniais como os mais heroicos, de uma época em que se precisava ser macho pra viver, porque cada passo dado era uma luta a ser vencida, etc., etc. … Graças às leituras eu possuía segurança de conhecimento, boa conversa e uma fértil imaginação.

Os intelectuais burgueses, travestidos de socialistas, perguntavam por que eu não escrevia ou romanceava a saga da minha família. Achavam que eu poderia ganhar muito dinheiro se pudesse conseguir recursos para produzir um filme. “Fala com o pessoal da Embrafilme, contrata o Comparato para escrever o roteiro…” Fácil, fácil para eles. Misturavam assuntos históricos com religião, chegavam ao cúmulo de dizer que, de repente, eu poderia ser a reencarnação do Capitão-General ou que fulano já foi um faraó, que beltrana teria sido uma prostituta do bas-fond de Paris no período napoleônico, ou que o famoso cirurgião, Dr. W., era um médium competente e apregoava ter sido discípulo de um druida na Escócia em tempos imemoriais. Eu engoli mil bobagens e escutei milhões de asneiras, não obstante concordasse parcialmente com quase tudo. Aliás, só tinha de concordar com aquelas futilidades, pois queria mesmo levar meus interesses à frente.
***

No balcão de um bar conheci Gianni, que já me conhecia de nome e respeitava a minha famosa “nobreza”. Com ela aprendi que só um Bloody Mary bem dosado dá a arrancada para uma noite de prazer inesquecível. A pimenta-do-reino estimula o amor, ela dizia, desce pela garganta em fogo brando para arder a brasa que temos dentro de nós. Falava assim, a boêmia. Em tudo, dos gestos artificiais ao linguajar ultrapassado, não obstante sempre segura de seus conceitos, percebia-se nela uma angústia que aflorava, uma revolta contra os valores vazios de seu meio e uma dor de latejar os lábios quando falava. A insurreta Gianni não lamentava a vida, combatia o imobilismo da sociedade, o ócio, os preconceitos e as vicissitudes suspeitas dos que lhe cercavam. Combatia a tudo… Só com palavras, coitada. A ricaça fraquejava e desmoronava depois do discurso inflamado. Era uma gladiadora no seus sonhos efêmeros. Pediu ajuda a mim. Eu dei. Não sei bem o que houve, mas aprendi a amar aquele drink, tanto que convenci Gianni a ficar comigo. Não houve nenhum início de resistência e nossa relação foi se fortalecendo dia a dia, drink a drink. O que é que eu podia esperar de uma mulher descasada, mal-amada e com um passado cheio de mágoas e com uma rede de relações fragmentadas àquela altura?
***

Na pior das conjecturas, para mim, Elna seria aquele protótipo de amiga chata, pré-fabricada na adversidade, daquelas inconvenientes, mantenedoras de estímulos nada razoáveis a quaisquer problemas emocionais. E Gianni me falava tanto dela que, confesso, cheguei a ter ciúmes. “Outra balzaquiana desocupada” eu pensara, mas não falei. “Sem ter o que fazer procura ajudar a amiga e não ajuda porra nenhuma. Ainda bem que te conheci quando ela estava fazendo mestrado em Artes na Alemanha”. Cartas e postais de prédios antigos iluminavam o rosto de minha mulher. Elna achou o máximo termos casado. Uma vez ouvi o trecho: “Ah, querida, pegar um homem maduro é como fisgar um peixe arisco. Nossos machões estão cada vez mais decadentes. Eu te parabenizo, Gianni, a América do sul está prestes a cair sob nossos pés. Serão quinhentos anos que se romperão ao redor único das mãos da mulher. Em pouco tempo conhecerei teu marido, teu nobre tupiniquim colorido de penas de arara”. Esse dia chegou. Fui amargar minha primeira e real solidão tomando Campari com soda no bar da esquina. Perdi a mulher, achei.

Não. Em casa as duas estavam nuas na cama me esperando. Nenhuma palavra. Ray Conniff tocava na vitrola. Ray Conniff, ora essa, o som de fundo da suruba. Uma bacanal com a própria mulher e a amiga. Tudo bem, as doses não me afetaram no desempenho. Aceitei, claro que sim, era uma fantasia rara de se realizar e o prazer não mede a dimensão do sentimento nessas horas. O que mais valeu, no entanto, foi ter experimentado, pela primeira vez, toda a passividade que jamais pensei que um dia teria. Valeu pelos gozos múltiplos e infernais. Técnicas da milenar Germânia transculturadas pelo corpo e pelas mãos de uma pseudo-viking interessada em guerrear com os machões do Novo Mundo. Perdi a guerra. As Amazonas venceram e queimaram os despojos do vencido. Que seus deuses sejam louvados no quadrilátero da cama!
***

Ai, estas dores nas costas! A cama de ferro arqueada e no fundo a concavidade de dois corpos nus. Um de leite, outro de bronze, dormem, inertes, sem dar a mínima para a luz penetrando na janela. Tropeço em latas de cerveja, faço a barba com o mesmo aparelho que depilou as púbis devoradoras daquelas mulheres sanguinárias. Sigo para a obra com a consciência ardendo por ter derrubado um edifício de conceitos. Um erro de cálculo. Eu jamais havia errado na minha profissão, mas ali naquele cenário…
Errei dia após dia. Implodi fortificações coloniais construídas pelos meus nobres antepassados, sólidas igrejas e prédios de concreto e ferro. Nem calculava mais meus erros. Maculei minha profissão num ímpeto dilacerante. A integral esfacelou-se no meio do enunciado. Fiz besteira? Não. Elna, a do capacete bárbaro, e Gianni, a uiara devoradora, se movem em sôfregos rituais quando eu, o totem, o ídolo antropomorfo prostra-se no campo de batalha.
***

Ligar para esses pulhas do Society eu não ligo. Podem insinuar, tentar puxar conversa que de mim não arrancam nada. Temos, nós três, um segredo eivado de detalhes que só nós sabemos. Eu sei que é trivial, é prática constante uma transa dessas para eles. Só que ao meio da nossa, permeia uma contenda na qual as mulheres sempre vencem. Eu só perco porque não sei mais calcular. Não tenho e nem quero dados, só resultados. Isso me basta.