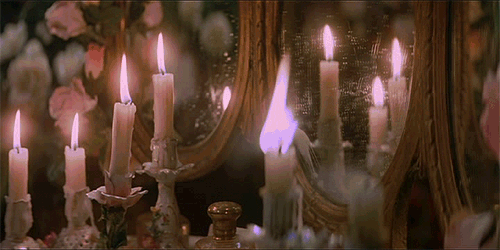São três da tarde, o sol está quente que dói. E o cara na zaga deixa a bola passar: gol contra o nosso time. De novo ele faz isso. Tamanho cara, eu penso, parece que faz tudo pra gente perder. Culpa do Juninho que não veio hoje porque arranjou o primeiro emprego e indicou o negão aí que é só tamanho e nem sabe pra onde a bola vai. Dou-lhe uma esculhambação, mas ele não liga. Nem tem como substituí-lo, hoje é segunda-feira, tem uns quatro do nosso time trabalhando no comércio. Eu não estou nem aí… Sou funcionário público mesmo…
A maré vem enchendo e a gente vai ter que abandonar o campo na praia. Nosso time era quase imbatível, mas esse cara… Putz! 5 X 0 e saímos ridicularizados pelo adversário. Agora todo mundo vai saber. Vão nos gozar o ano todo. Isso nunca tinha acontecido, éramos os reis do futebol de praia, do futlama, digo, como chamamos aqui em nossa cidade, porque o campo que utilizamos é o leito do rio, que tem uma sedimentação mais sólida depois que a ábardupedrogua seca. Jogamos entre as marés, até o rio encher. E o nosso time, o “Mergulhão”, era o melhor. Era. Antes desse vexame.
*******

É Sexta-feira. Estou no bar da Preta, lá perto do trapiche, tomando uma loura, esperando a namorada e a lua cheia que vem linda, brotando do meio do rio, quando vejo a confusão: gente correndo, polícia chegando com suas sirenes e luzes e um negão descontrolado:
– Vou contaminar todo mundo, eu. Ninguém encosta que eu faço o que digo.

Caramba! É o cara ruim de bola da defesa do nosso time. Está com uma seringa na mão e aparenta estar drogado. Os garçons dizem que é um tal de “Bambo”, um menor delinquente, destemido e inconsequente. Fugiu novamente do Centro que abriga menores infratores e quer assaltar todo mundo. Esconde-se atrás de uma coluna e salta como um gato sobre um casal. Ameaça enfiar a seringa na moça, mas ela desmaia e o rapaz foge covardemente sem prestar auxílio à namorada. Mesmo na mira dos policiais “Bambo” consegue segurar uma garçonete do bar contíguo ao que eu estou escondido junto ao balcão. Ela tenta se desvencilhar dos braços enormes do agressor, mas ele a aperta cada vez com mais força. O garçom que se esconde ao meu lado me diz que o cara já contaminou duas pessoas com o sangue dele, que tem AIDS.

Falo baixinho, cético, quase sussurrando: – Mas como esse cara é aidético… Desse tamanho? Acho que ele está blefando. A polícia se aproxima e o cara está irredutível no seu propósito.
– Joga a seringa no chão. Ordena o soldado, segurando o revólver com as duas mãos. – Larga a moça e joga isso logo.

Os olhos do bandido volteiam quase saindo das órbitas, de um jeito que procuram algo no céu. São grandes e negros. Lá fora o rio enche e as ondas do Amazonas se embrabecem com o vento invernal. A lua sai por entre nuvens escuras e uma chuva contumaz desaba na Beira-rio. Ele me vê e parece me reconhecer. Caraca! Ele me viu e diz ao policial que quer trocar a moça por mim. Só assim poderá negociar sua vida.

Um tenente chega comigo e pergunta se eu o conheço. Titubeio na afirmação positiva. Surpreendentemente, e como que hipnotizado por aqueles olhos, caminho em sua direção desobedecendo às ordens do oficial. Peço que não atirem e me posiciono na frente dele. Ele larga a garçonete e me segura pelo pescoço. Dá pra ver a seringa com uns 200 ml de sangue dentro dela. Um sangue claro, semelhante a suco de groselha. Falo para ele:
– Te entrega ou eles vão te matar.
– Não vão, não. A imprensa já tá chegando.
– O que tu queres comigo?

– Quero jogar no teu time de futlama, no “Mergulhão”.
Fiquei mais lívido que quando fui trocado pela garçonete. Puta merda, além de bandido o cara é ruim demais. – Mas por que, cara? Pergunto.
– É que gostei do nome do time e sou amigo do Juninho.
Fiquei pensando, pensando. – Está bem. Quando tu saíres do Centro que tu estavas passa lá com a gente que vais ter lugar garantido, eu te juro.

– Legal, disse ele. Eu sou gente boa, eu. Arrematou naquela linguagem própria de adolescentes pobres, membros de gangues suburbanas. Seus olhos eram grandes, mas tristes. Estavam marejados.

Ainda sob a mira dos revólveres dos policiais e sob o foco das câmeras de televisão e celulares de curiosos, ele largou meu pescoço e a seringa supostamente contaminada. Os policiais lhe deram voz de prisão e tentaram lhe algemar com truculência. Mas antes de entrar na viatura, “Bambo” conseguiu puxar do bolso traseiro da bermuda estampada de camuflagem militar, outra seringa. Ao mesmo tempo em que tentava se desvencilhar das pancadas, aplicou a agulha no rosto de um soldado. Levou imediatamente quatro balaços no peito e caiu no asfalto. Os policiais afastaram os repórteres e curiosos e saíram em velocidade com o corpo do menor e o militar que berrava de dor. Foi tudo muito rápido.
*******

Só me restava agora tomar mais uma gelada para aliviar a tensão, já que não fui intimado para depor na delegacia. A namorada chegou preocupada. Já sabia do acontecimento pelas redes sociais. E bebeu comigo para me consolar.
Ainda era cedo. A nuvem escura havia se dissipado e o rio bebia o brilho da lua fêmea. Estendi meu olhar sobre o Amazonas se enchendo de luar e vi um mergulhão solitário emergindo d’água, desenhando a silhueta acima da Pedra do Guindaste, voando na direção ao norte. Parecia uma alma escura a buscar desesperadamente seu ninhal.

Comentei com a namorada o quanto tudo aquilo havia me deixado intrigado. Até cheguei a filosofar sobre a imagem do mergulhão retardatário. Ficamos um tempão olhando o rio e bebendo cerveja. E não demorou muito para o céu se fechar novamente com raios e trovões e nuvens escuras bailando ao vento, a cobrir o magnífico luar.
– Não são simplesmente nuvens de chuva, me disse o velho garçom, sorrindo com a gorjeta que lhe dei ao pagar a conta e justificar minha ida por causa da chuva que logo desabaria. – Quando matam um bandido por aqui acontece isso, me disse ele com calma.
– Olhe de novo.

Perscrutei o céu como quem busca desvendar uma ilusão de ótica desenhada. As nuvens eram bandos de mergulhões reunidos, voando em círculos, prontos para pescar nas águas profundas do rio naquela noite trágica.