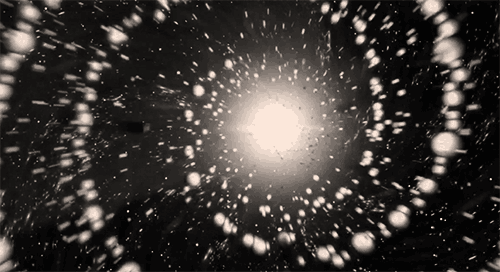Conto de Luiz Jorge Ferreira
Eu a chamava de Tamaiká…eles a chamavam de Manitu, é minha mãe a chamava de Tuxauã…
Não imagino quantos anos ela tinha…sei que ela contava que era do tempo em que o sol nascia onde hoje se convencionou chamar Poente…
Não sei se tivera filhos, sei que tinha consigo inúmeros bonecos feito de argila, a quem ela se dirigia por um nome balbucido entredentes em um dialeto feito de consoantes, e números…

Eu havia contado mais de cem bonecos de argila, como afirmara que tinha uma gravidez a cada ano, deduzi que tinha de idade, mais de cem anos.
Minha mãe como trabalhará por muitos anos na confluência do rio Oiapoque, e o estuário do Bailique, se tornará íntima da linguagem coloquial dos Kaokaris, indivíduos albinos, que se vestiam de uma roupa traçada com fios de teia de aranha tocantira, muito semelhantes as formigas desta família, o que levava a crer que uma fosse a outra, ou a outra tivesse sido antecessora dessa.

Mamãe lhe acompanhava quando ia se alimentar, comia restos de flores, sempre amarelas, e frutos roídos por antas e capivaras, assim que entrava na mata, com um cipó amarrava a perna esquerda de encontro a coxa, é mesmo assim nesta pose incomoda adentrava léguas, e léguas, até encontrar uma nascente , então cavava, e quando brotava uma água reluzente, como se fora misturada a luzes, lavava os olhos, pedia que minha mãe lavasse os dela, mas como das vezes anteriores, em que minha mãe , o fizera, virá em seguida a clareira cheia de Sacis, Duendes, Mapinguaris, e algumas Matintas Perera, ela medou, para não ser discordante, passava a mão naquela água fosforescente, e fingia esfregar os olhos.

Mas um dia, ela deixou de convidar minha mãe, a lavar com ela seus próprios os olhos….e de volta já noite avançando…
Mãe a inquiriu… porquê não insistiu mais que eu lave os olhos, na água que brilha.
– Você não o faz!

Olho seus olhos, e eles continuam só enxergando o limitado…
O infinito que nos cerca, você teme…
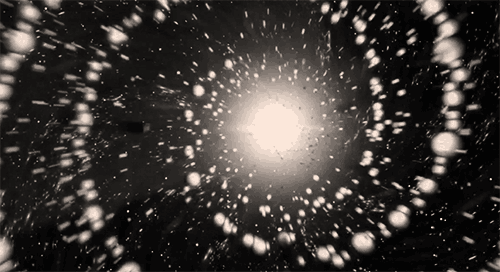
Mãe envergonhou-se. Por falar e entender a língua Kaokaris, mãe conversava com ela, quando as duas estavam sozinhas, porque a linguagem Kaokaris, tem voz, gestos, estalos de língua ritmados, e piscadas, como um código Morse, e separando cada grupo de gestos, e sons, ligeira flexão sempre de frente para o sol, e em seguida dando as costas para a Constelação de Sírius,se noite fosse, porque segundo ela, a Kaokari …Sempre dizia…Lá foi onde tudo começou.

Eu ouvi este diálogo, várias vezes, ouvi porque tinha ido passar alguns dias em Karutapera, e em estando lá comecei a traduzir, sons, trejeitos, genuflexoes, e breves passos de dança…
Foi quando chegou a Primavera, eu sumi.

Agora eu daqui de Sírius, me manifesto neste estado semi liquido, de mistura as luzes fosforescentes, neste corredor criado para a fluidez das ondas alfa, e vou até a parte neural do seu cérebro, onde o faço, transcrever isto que digo, como se ela minha mãe, o houvesse criado.
Obrigado.
Tuxauã…Manitu… Tamaiká…
A voz de minha mãe, agora fraca, se perdeu entre paredes descascadas.

Ela, abriu pela derradeira vez o quarto do filho desaparecido há uma década…sabia que ali não viria mais…
Sentia sobre si, o peso dos anos, a mão direita tremia, e os olhos tinham as pálpebras pendentes, o que a forçava a olhar com o rosto voltado para cima, trazia os espasmos na musculatura da face que quase que mudavam sua fisionomia de um todo, apagando a que ele conhecerá quando ainda estava ali.
Muitas vezes andando bem lentamente, tinha a sensação que sua alma lá adiante parava esperando o corpo vir se aproximando, como chuva e vento…que um espera o outro.
Beijou cada papel riscado, cada traço espalhado, cada fresta de tábua escapando luz…

Olhou o calendário todo rabiscado na parede…2049…
Achou que sonhava …e morreu.

D’aí o tempo apodrecido e magro… cuspiu sobre a sua sombra, que embora com o perfil de um Mapinguari desajeitado e lento, lhe acompanhava ágil … desde que nascerá.
* Além de contista, Luiz Jorge Ferreira é poeta, escritor e médico amapaense que reside em São Paulo e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames).