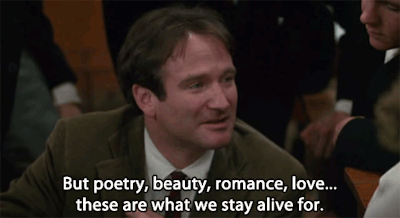Crônica de Evandro Luiz
A cada ano que passa, o verão fica mais quente. Pelo menos é o que sempre diz seu Everaldo Ramos da Silva, 67 anos de idade, também conhecido como Acapu. Vive da agricultura e assim mantém a tradição da família. Mas a decisão de não casar, e não ter filhos traz a ameaça de colocar um fim em um ramo da árvore genealógica da família Silva.

Homem de poucas palavras, difícil de ver um sorriso em seu rosto. Não que ele seja um cara rabugento, mal educado, longe disso. Na comunidade onde vive é dado como um homem culto. Na televisão, só os telejornais, nas emissoras de rádio gosta de ouvir os programas que começavam bem cedo e que davam orientação para os agricultores. Já os jornais impressos lê sempre mais de um. O objetivo é ver a linha editorial de cada um deles.

Uma vez perguntaram ao seu Acapu por que ele participava tão pouco dos eventos da cidade. Para despistar, disse que não era muito chegado a aglomerações. Mas na realidade, ele não gostava mesmo era da futilidade de algumas pessoas. Aqueles que se achavam cultos e se diziam prontos para entrar na política, das conversas que não acrescentavam nada. E Acapu não via dentro da comunidade um movimento que despertasse a chama de mudança. Os jovens sendo manipulados por aqueles que estavam no poder.

No planalto central, os generais – sem dar um tiro – tomaram as rédeas do país. As porteiras foram abertas e o que vê são milhares de hectares de florestas sendo dizimados. Um problema que mexe o fundo do coração de seu Felipe Ramos. Se raras vezes ele foi visto sorrindo, muito mais difícil é vê-lo chorar, mas essa situação, do descaso com o meio ambiente, quase o levou a uma depressão. Mas soube reagir. Conhecia bastante gente, mas tinha poucos amigos, dava pra contar nos dedos. Entre eles estavam o Joca, o Cabeludo, o seu Chicola, o Tomate, e o Moreno. Vez ou outra se encontravam. Um dos poucos momentos que se via Acapú rindo, dando gargalhadas, totalmente à vontade. Uma amizade desde a infância. Jogaram bola juntos, mas o que eles gostavam mesmo era de empinar pipa.

O tempo os fez, cada um seguir o seu destino. Joca, o Tomate e o Cabeludo, foram estudar em Belém. Seu Chicola foi para Brasília e Moreno foi morar em João Pessoa. Acapu foi o único que ficou na terra. E, como consequência da distância, as notícias entre eles começaram a diminuir.
Dizem que foi a partir daí que Acapu traz no rosto uma tristeza indecifrável. Já se passavam 35 anos sem a presença dos amigos. Não havia um dia que não pensasse neles.

O velho agricultor, depois do trabalho, gostava de sentar-se à sombra de uma frondosa mangueira. Um certo dia, ouviu do seu mestre de obras, que havia um homem que queria vê-lo. Acapu, meio aborrecido, chegou a dizer para o capataz: “isso é hora de visita”. Foi se aproximando, com a vista já comprometida pela catarata. Ainda longe, via apenas a silhueta de um homem, e decidiu ir ao encontro dele. Aos poucos o visitante foi abrindo um sorriso que o agricultor conhecia bem. Acapu conhecia muito bem também aquele jeito de andar. Um aperto no peito e as raríssimas lagrimas do agricultor revelavam o quanto ele esperava por esse momento. Joca estava ali. Os dois se abraçaram. E o que parecia um longo período sem notícias foi logo dizimado pela presença do amigo.

Joca olhou ao redor e viu que pouca coisa tinha mudado. O casarão, os currais para os cavalos de raça, e a grande plantação de milho continuavam no mesmo local, só que agora bem maiores. Joca então disse: “acho que tem mais gente querendo falar com você. Eles estão lá dentro do carro, uma Kombi”. O primeiro a sair foi o Chicola, depois o Tomate, veio o Cabeludo e por último o Moreno. Foi um momento que Acapú pensou que nunca mais iria acontecer.

A noite chegava bem devagar, talvez querendo compensar o tempo que eles passaram separados. Em um certo momento, Acapu, chamou atenção de todos e disse que tinha um presente para cada um deles. Cinco minutos depois estava de volta com cinco pipas. Ele tinha guardado como lembrança de um tempo que não volta mais.

Dizem os vizinhos que no sitio a festa varou a madrugada e que eles soltaram pipa a noite toda. Três dias depois muita festa, o capataz da fazenda, chegou no casarão e anunciou que pelo menos cinco mulheres vieram buscar os maridos.

Everaldo Silva sentiu que mais uma vez ficaria só. A separação não se daria por intrigas, fofoca, inveja… não. Agora o coração dos amigos estava titulado pela chancela do amor. Um latifúndio que nunca quis explorar – muito menos plantar – e por isso nunca vai colher fruto desse pomar. O silêncio voltou a imperar no sítio de Acapu. Ele voltou ao seu cotidiano; tinha a certeza de que aquele foi o último encontro com os amigo de infância.