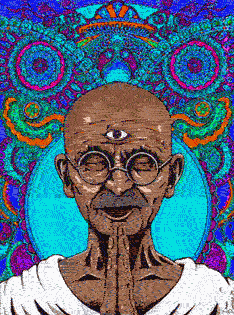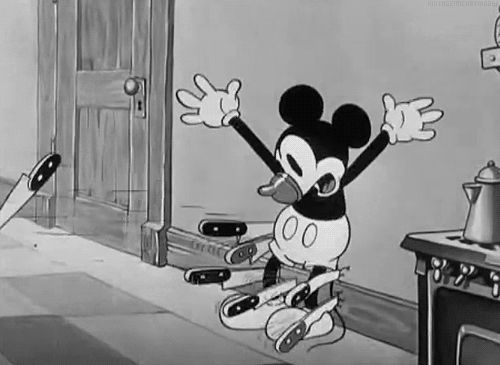Crônica de Fernando Canto
Recebi do amigo Gama um poema onde o autor lembra os inúmeros episódios que vivemos na época de estudantes em Belém. Estávamos nos meados da década de 70. O governo militar havia fechado o Congresso no famoso “pacote de abril” e instaurara a figura do senador biônico, entre tantas outras anomalias criadas contra a democracia. Tudo em nome da ordem e da manutenção do status quo, que perduraria por mais 10 anos.

O poeta me contou da largura do rio que conheceu como uma ponte bailante ao som do vento, nas longas travessias que percorreu em busca de algo bom. No seu camarim de madeira flutuante disse dos dias e noites que passou ouvindo o barulho dos motores e cheirando o óleo queimado no vai-e-vem da rede em que sonhava.

Nas margens opulentas dos furos entre as ilhas pôde sentir o preparativo da longa ópera que se descortinava em nosso futuro. E viu policiais armados com porretes batendo os estudantes que debatiam o regime político. E viu todos nós correndo como loucos “sobre os paralelepípedos desnivelados para se esconder”. E respirou, aliviado, “sentindo ainda o bafo quente daqueles cavalos ofegantes/ ouvindo o estalido agudo da ferradura/ na distante noite escura”, em que tantos foram tantas vezes presos que viram fenecer seus sonhos, que roeram seus próprios quebrantos na ausência da luz.
O poeta me fala da sua necessidade de voltar a terra, do inevitável compromisso familiar assumido e do rio que parecia ter se alargado mais na hora da volta. Era um abismo, mais que um pélago oceânico, era um abismo de imensurável fundura. Mesmo assim recolheu a âncora no cais do porto e singrou, quase exaurido, em sua epopéia estudantil vencida e terminada.

No curso das nossas vidas, pela dor, redescobre os nós bem antes apertados, porém que se tornaram frouxos, distantes e reticentes. Informa que não somos mais os mesmos, posto que o mundo e seus problemas são maiores. Nós nos descrevemos em palimpsestos, e escrevemos novas histórias em nossas lembranças, “agora a nossa menor distância”, ele me diz.

Verdade, não há mais cantorias na casa do Isnard, lá em Belém, e o violão acompanhando “Devaneio” entre doses de caipirinha e um Minister colocado na ponta da corda de aço. Nem nas férias em um domingo de sol na Fazendinha se ouvirá mais o canto revolucionário de Vandré cantando aos berros “Pra não dizer que não falei das flores” para um público ignorante dos problemas brasileiros. O som da viola em sol maior não permanecerá vívido na lembrança de que “O terreiro lá de casa/ não se varre com vassoura/ varre com ponta de sabre/ e bala de metralhadora”. Ah, e depois, será que nos lembraremos de Glauber com o seu premiado “Deus e o Diabo na Terra do Sol”?
Mudamos sim, velho camarada, sem perceber que sabemos do “equilíbrio de uma cor”, que sabemos que “o mundo é outro e outros somos nós”, como me dizes. Ser outro é o retrato da mudança, pois mudar significa se deslocar de um lugar ou de um tempo para outro, transformar a sua própria realidade com todos os senões que vida traz, com todo o rufar dos tambores que nos despertam para que não fiquemos sem memória.

E viver, tens razão, é lembrar, é não deixar morrer a chama de Mnémone, mas também atravessar com coragem o rio de cada dia, às vezes mais largo, abissal em suas entranhas, mas às vezes estreito como um córrego em minha realidade.
**Fotos encontradas no Google, blogs da Alcinéa Cavalcante e Fernando Canto.